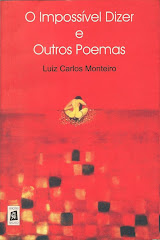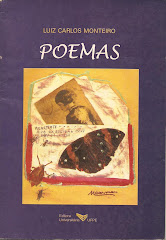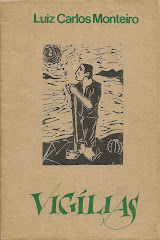ANTONIO CANDIDO
OU O EXERCÍCIO PÚBLICO DA CRÍTICA
Luiz Carlos Monteiro
Em torno do nome e da figura de Antonio Candido criou-se uma aura de grande prestígio intelectual. Ao longo de sete décadas, sua intervenção no campo cultural brasileiro tem envolvido a crítica literária, a militância política e a atividade docente em universidades paulistas. Nascido no Rio de Janeiro (24 de julho de 1918), Antonio Candido de Mello e Souza passou a infância e a adolescência em Minas Gerais. A essa época, viveu por cerca de dois anos na Europa, para onde viajou em fins de 1928com a família. Apenas em 1936 chega a São Paulo para estudar, onde mora até hoje.
O ano de fundação da revista Clima – 1941 – coincide com o abandono do curso de Direito e o término de Ciências Sociais. Em Clima, Candido inicia-se na crítica literária. Conta em seu livro Recortes (1993), como abordou Drummond através de carta, solicitando-lhe colaboração: “Em 1943 escrevia a Drummond sem conhecê-lo, pedindo descaradamente colaboração para uma revista de jovens de que eu fazia parte. Ele respondeu com extraordinária cortesia, mandando palavras de estímulo e alguns poemas admiráveis, que depois apareceriam quase todos em Rosa do povo. Escolhemos três, que só foram sair dali a um ano, porque a revista passou por longo eclipse. Mas antes de acabar para sempre, no fim de 1944, pôde publicar em primeira mão um dos poemas mais belos e importantes da literatura brasileira contemporânea: ‘Procura da poesia’”.
Eram outros componentes da revista Paulo Emílio Salles Gomes (seção de cinema), Lourival Gomes Machado (artes plásticas) e Décio de Almeida Prado (crítica teatral). Oswald de Andrade apelidou-os de “chato-boys”, incomodado porque a apresentação do primeiro número foi dada a Mário de Andrade, seu maior desafeto e intelectual mais respeitado no Brasil à época. Oswald queria significar com o apelido, como lembra um tanto autoironicamente Candido em Vários escritos (1977), rapazes “estudiosos, bem comportados, sérios antes do tempo”. Nesse livro multifacetado, o artigo “No raiar de Clarice Lispector” configura o texto de descoberta da escritora, publicado sob outras versões na Folha da Manhã (atual Folha de São Paulo) e no livro Brigada ligeira (1945). Ao analisar premonitoriamente Perto do coração selvagem, o crítico de vinte e cinco anos afirmará: “Com efeito, este romance é uma tentativa impressionante para levar a nossa língua canhestra a domínios pouco explorados, forçando-a a adaptar-se a um pensamento cheio de mistério, para o qual sentimos que a ficção não é um exercício ou uma aventura afetiva, mas um instrumento real do espírito, capaz de nos fazer penetrar em alguns dos labirintos mais retorcidos da mente”.
Em Brigada ligeira, um de seus dois livros de estreia, escreverá sobre o romance Fogo morto, considerado a obra-prima de José Lins do Rego. Talvez pelo fato de caracterizá-lo como “o romance dos grandes personagens”, pouco acrescentará à análise do desempenho ficcional de José Lins, detendo-se preferencialmente na descrição parafrásica de tipos e heróis da decadência rural da burguesia paraibana. Posteriormente, tal procedimento ficará claro no texto “A personagem do romance”, incluído na obra coletiva A personagem de ficção (1987). Utilizará uma argumentação que fará a diferença entre a “necessária simplificação” sofrida por toda personagem na prática romanesca e “a aventura sem fim que é, na vida, o conhecimento do outro”.
Compartimentado como um dos ensaios ficcionais de Tese e antítese (1978), “Os bichos do subterrâneo” traz à luz a obra de Graciliano Ramos. Não será a primeira vez que Candido estuda o escritor alagoano, tendo lhe dedicado em 1956 um livro inteiro, Ficção e confissão, reeditado em 1992. Em “Os bichos do subterrâneo”, a ficção de Graciliano é avaliada sob três aspectos, distinguidos pelo crítico como romances na primeira pessoa (Caetés, S. Bernardo e Angústia), narrativas em terceira pessoa (Vidas secas e Insônia) e obras autobiográficas (Infância, Memórias do cárcere). E esclarece: “Nos três setores encontramos obras-primas, seja de arte contida e despojada como S. Bernardo e Vidas secas; seja de imaginação lírica, como Infância; seja de tumultuosa exuberância, como Angústia. Em todas elas está presente a correção de escrita, a suprema expressividade da linguagem, a secura da visão do mundo, o acentuado pessimismo, a ausência de qualquer chantagem sentimental ou estilística”.
Decerto a sua vivência inicial em cidades mineiras do interior levou-o a demonstrar empatia por personagens e seres reais do mundo rural. E a construir painéis interpretativos de reconhecida lucidez e equilíbrio, pois nem sempre escritores e pesquisadores aboletados nas metrópoles se saem bem neste campo. É assim que consagrará a literatura sertaneja de Guimarães Rosa estreante em meados da década de 1940. Desenvolverá também mais à frente, pesquisa sociológica sobre o caipira paulista e seus meios de vida, Os parceiros do Rio Bonito, sua tese de doutoramente em Ciências Sociais na USP.
Dois livros estabelecem, de modo definidor, o percurso crítico de Candido: O método crítico de Silvio Romero (1945) e Literatura e sociedade (1964). Uma distância de quase vinte anos entre ambos não anula certos princípios teóricos que se encontram bem mais consolidados no segundo. Ao escolher Silvio Romero como autor modelar para as bases de sua crítica – e também para a obtenção da livre-docência na USP –, estava definindo e questionando as relações entre a sociologia e a literatura brasileira no século 19. Isto coincide, do ponto de vista histórico-literário, com a tentativa de decretação de morte do romantismo e consequente ascensão do positivismo crítico, fenômenos preconizados e defendidos por Romero. Tal crítica científica evoluirá, no futuro, para o formalismo exacerbado, de um lado, e de outro, para uma espécie de sociologismo do qual foi injustamente acusado o próprio Candido. Sua crítica, no entanto, como observou José Guilherme Merquior, não renega nunca, em termos assumidamente teóricos, a abordagem sociológica, notadamente em Literatura e sociedade. Em seus ensaios, a análise histórico-literária e formal de obras não sobrepuja o homem e os grupos sociais nelas presentes. Os escritores terão sempre um papel individual e uma função social definida em relação ao público, ao tempo e á contextualização da sociedade em que vivem.
No entremeio dos dois livros acima referidos, Candido publicou, em 1959, os dois volumes do seu trabalho de maior fôlego, Formação da literatura brasileira (6ª edição, 1981), subintitulado “Momento decisivos”. Escrito entre os vinte e sete e os trinta e três anos, evidencia o seu preparo e maturidade para a extensão e a complexidade das temáticas e períodos literários abordados. Arcadismo e Romantismo são exaustivamente pesquisados, avaliados e estudados a partir de uma concepção sistêmica para a literatura brasileira. Esse seccionamento permitiu uma visão mais aprofundada dos dois movimentos, o que talvez não fosse possível se ele tivesse intentado escrever uma história da literatura brasileira nos moldes tradicionais. À prosa incipiente do Arcadismo, sucedeu-se uma prosa bem mais substancial no romantismo, com a consolidação do romance e os primeiros passos da crítica. A poesia arcádica ainda hoje é digna de nota e a poesia romântica estendeu-se pelo século 20 através, por exemplo, de momentos isolados na poesia de Manuel Bandeira, diretamente influenciado por Gonçalves Dias.
Em parceria com a mulher, a professora Gilda de Mello e Souza – que, aliás, participou também do grupo de Clima –, escreveu a “Introdução” a Estrela da vida inteira, livro comemorativo dos oitenta anos de Manuel bandeira. A leitura empreendida da poesia bandeiriana é impecável e sem subterfúgios. Identifica-se o forte substrato inicial de confidência e penumbrismo em Bandeira, como a sua superação a partir da noção exata do “momento poético” no qual o poema realiza-se e adquire forma definitiva. A análise tangencia o que há de “essencial” nos versos do pernambucano: “Pode ser que o segredo dessa poesia condensada e fraterna esteja na capacidade de redução ao essencial –, tanto no plano dos temas quanto no das palavras. Essenciais, são a emoção direta da carne e a espontaneidade da ternura, sob as elaborações do sentimento amoroso; é a descrição direta dos gestos na selva intrincada do quotidiano; é o encontro de termo saliente, único, na difusão geral do discurso”.
A educação pela noite (2000) reúne doze ensaios distribuídos entre poesia, ficção e crítica. Pode-se encontrar neles tanto esboços de história literária colonial e atual, quanto relações definidoras entre política, educação, sociologia e literatura. O ensaio “A nova narrativa” sintetiza, em visão panorâmica e despretensiosa, a ficção brasileira em diversos períodos. Finalizando com a década de 1970, Candido entrevê nesta uma “verdadeira legitimação da pluralidade”. Na sequência ele passa a indigitar o que chama de “textos indefiníveis”: romances que mais parecem reportagens; contos que não se distinguem de poemas ou crônicas, semeados de sinais e fotomontagens; autobiografias com tonalidade e técnica de romance; narrativas que são cenas de teatro; textos feitos com justaposição de recortes, documentos, lembranças, reflexões de toda a sorte”. Contudo, reconhece o valor de prosadores como João Antônio e Rubem Fonseca, representantes do “realismo feroz”, ou Roberto Drummond, mais voltado para a “ruptura das normas”, com a incorporação de recursos gráficos ao texto.
Como militante, Antonio Candido vem exercendo a política de modo discreto, porém incisivo e consequente, participando desde a juventude de partidos, conselhos, associações e movimentos de orientação democrática e socialista. Na condição de professor, formou varias gerações de intelectuais, com discípulos como o ensaísta mineiro João Luiz Lafetá, o crítico marxista Roberto Schwarz, a historiadora Walnice nogueira Galvão, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, entre outros. Foi professor visitante em universidades dos Estados Unidos e França.
A crítica literária destaca-se como a atividade em que mais tem se empenhado. Sua produção crítica e ensaística compreende um vasto material espalhado em numerosos jornais e revistas, dentro e fora do Brasil. Sem esquecer que há mais de quarenta anos deixou de colaborar regularmente na imprensa diária, após a experiência de crítico em jornais como a Folha da Manhã, o Diário de São Paulo e O Estado de São Paulo (no qual planejou seu Suplemento Literário). Além disto, quase todos os seus livros tiveram mais de uma edição, exceto os mais recentes, havendo casos de um ou outro receber edições sucessivas. Alguns deles ficaram guardados por um tempo talvez desnecessário, a exemplo de Um funcionário da monarquia (2002), que já estava pronto em 1985. Refere-se à biografia de Antonio Nicolau Tolentino (1810-1888), bisavô de Candido. De origem modesta, este personagem entrou no serviço público como contínuo de repartição e chegou a ocupar a direção da caixa Econômica e a presidência da Província do Rio de Janeiro.
No poema “Esboço de figura”, que dá título a um livro em homenagem a Candido, Drummond assim o definiu: “Arguto, sutil Antonio,/ a captar nos livros/ a inteligência e o sentimento das aventuras do espírito,/ ao mesmo tempo em que, no dia brasileiro,/ desdenha provar os frutos da árvore da opressão,/ e, fugindo ao séquito dos poderosos do mundo,/ acusa a transfiguração do homem em servil objeto do homem”.
Inédito, 2003